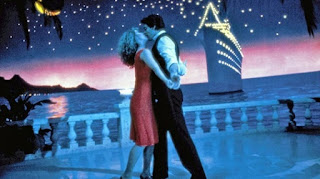Um
filme que, de modo lírico, confirma que a existir um único tema no cinema (talvez
na arte) esse é a solidão. Ou melhor, esse estranho, por vezes confortável,
outras vezes insuportável, hábito ou rotina solitários que se entranha com o
tempo no nosso singular e interior modo de percorrer o dia-a-dia.
«A
Torre sem Sombra» é um templo budista nos arredores de Pequim, com séculos de
existência e que parece não lançar sombra apesar do ângulo de que esteja a ser
olhado. Ali perto mora Gu Wentong (Xin Baiqing), um homem de meia-idade que se
dedica à crítica gastronómica, divorciado, pai de uma menina inteligente e
carinhosa que vive com a tia, irmã do pai. Gu Wentong, homem bondoso que reside
na casa que fora da mãe, recebe do cunhado um papelinho com um número de
telefone no dia em que foram visitar a campa da mãe. A partir dali, duas ou
três histórias cruzam-se ligando um passado de certo modo oculto ou mal
interpretado e um futuro que parece não se enquadrar facilmente nas normas
sociais ou afectivas a que Gu Wentong, afinal, habituou a sua solidão. Um facto
é que a desconcertante exuberância da fotógrafa que o secunda na tarefa
jornalística, de nome impronunciável, Ouyang Wenhui (Huang Yao), vem de modo
inusitado ligar o presente a esse passado. No fundo, um passado ancestral da
China que mal reconhece a transformação cosmopolita e digital do futuro que
está ali mesmo ao virar da esquina.
O
melhor do filme é esse lado bondoso, humorístico mesmo, de ligar a insondável
nostalgia regressada das tradicionais canções chinesas a um certo futuro enraizado
na benevolente lógica do perdão.
Talvez
para isso mesmo necessário andar para a frente mas de costas viradas, como um
anónimo transeunte no parque ensinou a fazer a Gu Wentong.
jef,
agosto 2024
«A Torre sem Sombra» (The Shadowless Tower) de Zhang Lu. Com Xin Baiqing, Huang Yao, Tian Zhuangzhuang, Ji Nan, Wang Hongwei, Li Qinqin, Wang Yiwen, Liu Wanting. Argumento: Zhang Lu. Produção: Xu Jiahan, Peng Jin, Zhang Jian, Huang Yue, Lu Sheng. Fotografia: Piao Songri. Música: He Xiao. China, 2023, Cores, 144 min.











.jpg)