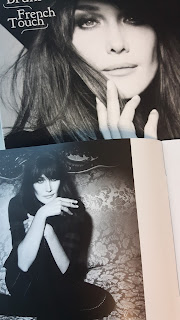Por
razões que não importa aqui referir, não pude ver o filme em reposição no
cinema Nimas, em Lisboa, pelos finais de Janeiro. Cópia restaurada e
digitalizada na fundação que o próprio realizador instituiu para o efeito.
Vejo-o
agora. E recordo a importância que o filme teve na altura em que foi
comercializado e, por muitos – eu incluído –, quase divinizado. Wim Wenders, Sam Shepard, Harry Dean Staton, Nastassja
Kinski, Ry Cooder… Temi que perdesse o fulgor de conto de ternos cowboys perdidos, conto de bondosas fadas desviadas, parábola de quem viu no vermelho o
ponto de fuga de uma América a que todos tínhamos direito.
Mas,
afinal, «Paris, Texas» nunca deixou de estar perto do rio Vermelho, e o esplendor
do restauro faz ainda brilhar as cores falsas de um continente que continua a
ser nosso.
Travis
(Harry Dean Staton) é um Cristo que caminha perdido no deserto, silenciando as
palavras que não pode evitar dizer a Jane (Nastassja Kinski), que se mantém
afastada do mundo por um vidro que, de certo modo, a santifica. O filho, Hunter
(Hunter Carson), inocente, sonha com o Big Bang e adormece com a cabeça
encostada ao Star Wars. Família sagrada no erro e na absolvição.
Assim
revejo, agora, a secreta e ressurrecta América de Wim Wenders, Sam Shepard e Ry Cooder, continuando a acreditar que a realidade do cinema nos faz
transportar para dentro do sonho que jamais voltaremos a abraçar.
jef, novembro 2017